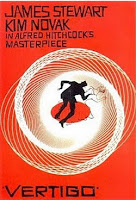Os Três Mosqueteiros
Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas père, é uma obra que já recebeu várias versões para o cinema e seus personagens já foram interpretados por vários atores. A última grande aparição de Athos, Porthos, Aramis e D’Artagnan em um filme foi no ótimo
O Homem da Máscara de Ferro, em 1998, onde foram brilhantemente interpretados por John Malkovich, Gerard Depardieu, Jeremy Irons e Gabriel Byrne. Agora, os mosqueteiros voltam para a telona pelas mãos do irregular diretor Paul W. S. Anderson, em um filme que não condiz com a grandeza dos personagens.

Escrito por Alek Litvak e Andrew Davis,
Os Três Mosqueteiros mostra os personagens em um momento quase depressivo. Depois de serem traídos por Milady de Winter (Milla Jovovich) em uma missão, Athos (Matthew Macfadyen), Porthos (Ray Stevenson) e Aramis (Luke Evans) não fazem mais nada além de beber, lutar contra os guardas de Rochefort (Mads Mikkelsen) e beber mais um pouco. Com a ajuda do jovem D’Artagnan, que sonha ser um deles, os heróis tentam impedir que Milady e o Duque de Buckingham (Orlando Bloom) iniciem uma guerra.

O pequeno prólogo, feito em animação, dá a impressão inicial de que Paul W. S. Anderson desenvolvera uma criatividade surpreendente. Mas é apenas impressão. À medida que os personagens principais aparecem pela primeira vez, o diretor congela a tela para cada um deles e coloca uma legenda com seus nomes, indicando estar com preguiça de deixar eles mesmos mostrarem quem são. Além disso, em certo momento, Anderson parece desconfiar que o público não sabe ler, colocando na tela o nome de um determinado local, Da Vinci’s Vault, para logo depois um dos personagens dizer “Estamos em Da Vinci’s Vault”.

Em termos de desenvolvimento de personagens, não é só Anderson quem mostra preguiça, mas os roteiristas também, que preferem nos apresentar aos personagens apressadamente para partir logo para a ação. Nos primeiros minutos de filme vemos que Athos é o estrategista do grupo e também o que mais sente a traição de Milady. Aramis é o religioso, algo que Anderson ainda ressalta através de um
plano de detalhe do terço que ele segura em sua primeira cena. Porthos é o brutamontes, enquanto que D’Artagnan é um jovem arrogante, que pensa que pode derrotar qualquer um em uma batalha.

O mais decepcionante é ver que essa pressa não é bem recompensada, já que as cenas de ação, de modo geral, não empolgam. Em todas elas, Anderson insere momentos em câmera lenta, da mesma forma que Zack Snyder fez em
300. Mas se Snyder conseguiu dar mais impacto em seu filme (ou filmes), Anderson não consegue alcançar absolutamente nada, fazendo do efeito uma grande perda de tempo.

Mas Anderson não erra em tudo. A cena de luta na qual D’Artagnan e os mosqueteiros enfrentam os capangas de Rochefort merece créditos por não se limitar a apenas golpes de espadas e alguns socos, mas também pelo modo como o próprio cenário é usado. É interessante notar em algumas cenas o modo como os personagens posicionam suas espadas, formando um “X” indicando o famoso “versus” dos jogos de video-game, algo que não é nenhum pouco surpreendente considerando a carreira do diretor. A montagem é interessante, contando com belas transições de cena onde Anderson usa o estilo de animação mostrado no prólogo para sair de um lugar para outro. São acertos isolados considerando o filme como um todo, mas ainda assim são acertos.

Além de não conseguir desenvolver bem os personagens, outro grande problema do roteiro de Litvak e Davis é o modo como eles tentam fazer graça. Nesse quesito, eles investem pesado em um personagem: o rei Louis XIII (interpretado por Freddie Cox). Mas os roteiristas conseguem o efeito contrário. Louis é o personagem mais irritante de todo o filme. Tratado pelos roteiristas como uma criança mimada que precisa de alguém até para desenrolar o tapete no qual está caminhando, o rei é alguém que se importa muito mais em andar com as roupas da moda (aparentemente, a moda é qualquer cor que o Duque de Buckingham estiver vestindo) do que com qualquer outra coisa. Os momentos em que ele percebe que está vestindo uma roupa “diferente” a princípio divertem, mas depois se tornam repetitivos e chatos. Freddie Cox ainda exagera nos toques afeminados do personagem, que nada mais é do que uma caricatura na qual o roteiro perde um enorme tempo desenvolvendo (tempo este que poderia ter sido dedicado aos personagens principais).

Quanto ao elenco, não há grandes destaques. Entre os heróis, Logan Lerman (um bom ator, como mostrou em
Bill e no fraco
Percy Jackson e o Ladrão de Raio) faz de D’Artagnan um jovem determinado, apesar de sua ingenuidade o deixar um pouco marrento. Matthew Macfadyen transforma Athos em alguém muito vazio até na maneira como fala. Ray Stevenson consegue nos passar o orgulho que Porthos sente consigo mesmo. E Luke Perry tem como grande trabalho ficar lendo na maioria das cenas em que aparece, já que seu Aramis pouco tem a dizer. Mas se individualmente, estes atores mostram resultados bem diferentes um do outro, como grupo eles mostram uma boa dinâmica, que não deixa de ser interessante.

Os vilões não chegam a chamar a atenção. Milla Jovovich traz um ar de inocência para Milady de Winter, algo que não combina muito com a personagem, que mostra ser uma
femme fatale. Orlando Bloom investe em uma voz sacana para compor o Duque de Buckinham, o que o torna ainda mais desprezível. Mads Mikkelsen e Christoph Waltz pouco tem a fazer com Rochefort e Richelieu. O primeiro mostra ser alguém mal-encarado apenas com sua expressão de malvado e seu tapa-olho, enquanto que o segundo mal aparece em cena.

Quando
Os Três Mosqueteiros chega ao fim, fica clara a vontade dos realizadores em fazer uma continuação. Talvez por isso o filme seja tão falho. Paul W. S. Anderson e companhia esqueceram que antes de pensar em sequências, o filme inicial tem de falar por si mesmo. Se estes personagens protagonizarem mais uma franquia, que esta seja do mesmo nível que eles. Do contrário, Alexandre Dumas père irá se revirar em seu túmulo, envergonhado com o que estão fazendo com sua obra.
Cotação:

 Filmes de boxe são comuns no cinema, sendo um gênero que já rendeu grandes filmes, como Touro Indomável e Rocky - Um Lutador. Gigantes de Aço é um filme que aparenta ser diferente das várias produções de boxe com as quais estamos acostumados. Isso porque temos robôs lutando no lugar das pessoas. É uma pena que essa seja uma das poucas diferenças que o filme traz, já que no resto a história copia elementos de produções do gênero, algo que acaba deixando um gosto de “poderia ser melhor” ao final da sessão.
Filmes de boxe são comuns no cinema, sendo um gênero que já rendeu grandes filmes, como Touro Indomável e Rocky - Um Lutador. Gigantes de Aço é um filme que aparenta ser diferente das várias produções de boxe com as quais estamos acostumados. Isso porque temos robôs lutando no lugar das pessoas. É uma pena que essa seja uma das poucas diferenças que o filme traz, já que no resto a história copia elementos de produções do gênero, algo que acaba deixando um gosto de “poderia ser melhor” ao final da sessão.
 Escrito por John Gatins com argumento de Dan Gilroy e Jeremy Leven, baseado na história de Richard Matheson, Gigantes de Aço nos apresenta a Charlie Kenton (Hugh Jackman), um ex-lutador de boxe que agora tenta ganhar dinheiro com o novo estilo do esporte: lutas com robôs. Quando sua ex-namorada morre, ele se vê disputando a guarda de seu filho, Max (Dakota Goyo), com a tia dele, Debra (Hope Davis). Charlie resolve passar um tempo com o garoto em troca de dinheiro, e juntos eles acabam se tornando a equipe perfeita para transformar o robô Atom em um grande lutador.
Escrito por John Gatins com argumento de Dan Gilroy e Jeremy Leven, baseado na história de Richard Matheson, Gigantes de Aço nos apresenta a Charlie Kenton (Hugh Jackman), um ex-lutador de boxe que agora tenta ganhar dinheiro com o novo estilo do esporte: lutas com robôs. Quando sua ex-namorada morre, ele se vê disputando a guarda de seu filho, Max (Dakota Goyo), com a tia dele, Debra (Hope Davis). Charlie resolve passar um tempo com o garoto em troca de dinheiro, e juntos eles acabam se tornando a equipe perfeita para transformar o robô Atom em um grande lutador.
 O tratamento dado à história lembra muito três filmes: Rocky – Um Lutador, Rocky 4 e Menina de Ouro. De Rocky temos o próprio protagonista. Ao longo do filme descobrimos que Charlie era um zé-ninguém na época em que lutava, até que fez um campeão dos pesos pesados suar em uma luta. Isso acaba refletindo em Atom, robô feito especialmente para apanhar em treinos, mas que mostra um potencial para ser algo muito maior do que isso. De Rocky 4 temos o vilão, um robô que seus criadores dizem ser indestrutível, assim como era considerado o Ivan Drago interpretado por Dolph Lundgreen. E de Menina de Ouro temos o fato de Charlie e Max subirem a categoria de Atom aos poucos, assim como o Frank interpretado por Clint Eastwood fazia com a Meg interpretada por Hilary Swank. Elementos como esses enfraquecem Gigantes de Aço, por que fazem o filme ser previsível demais.
O tratamento dado à história lembra muito três filmes: Rocky – Um Lutador, Rocky 4 e Menina de Ouro. De Rocky temos o próprio protagonista. Ao longo do filme descobrimos que Charlie era um zé-ninguém na época em que lutava, até que fez um campeão dos pesos pesados suar em uma luta. Isso acaba refletindo em Atom, robô feito especialmente para apanhar em treinos, mas que mostra um potencial para ser algo muito maior do que isso. De Rocky 4 temos o vilão, um robô que seus criadores dizem ser indestrutível, assim como era considerado o Ivan Drago interpretado por Dolph Lundgreen. E de Menina de Ouro temos o fato de Charlie e Max subirem a categoria de Atom aos poucos, assim como o Frank interpretado por Clint Eastwood fazia com a Meg interpretada por Hilary Swank. Elementos como esses enfraquecem Gigantes de Aço, por que fazem o filme ser previsível demais.
 Apesar de copiar esses elementos, o roteiro se beneficia do fato de nós, como público, sempre torcermos pelo personagem aparentemente mais fraco. Exemplos disso aparecem quando um protagonista enfrenta sozinho vários policiais ou quando enfrenta alguém claramente mais forte. Sempre torcemos por quem está em desvantagem. Sendo assim, quando Atom vai lutar com robôs mais fortes, é impossível não se importar com o que vai acontecer com ele. O design do robô ajuda muito nisso, dando um formato mais amigável ao personagem, algo que incluí um sorriso permanente em seu “rosto”.
Apesar de copiar esses elementos, o roteiro se beneficia do fato de nós, como público, sempre torcermos pelo personagem aparentemente mais fraco. Exemplos disso aparecem quando um protagonista enfrenta sozinho vários policiais ou quando enfrenta alguém claramente mais forte. Sempre torcemos por quem está em desvantagem. Sendo assim, quando Atom vai lutar com robôs mais fortes, é impossível não se importar com o que vai acontecer com ele. O design do robô ajuda muito nisso, dando um formato mais amigável ao personagem, algo que incluí um sorriso permanente em seu “rosto”.
 Com relação aos outros personagens, o roteiro mostra Charlie como alguém orgulhoso e muito ambicioso, o que faz com que não pense antes de fazer alguma coisa e se importe muito com dinheiro. A ambição do personagem é tão grande que por muito pouco ele não se torna desinteressante. Mesmo depois de ver o potencial de Atom, Charlie quase o vende quando um personagem oferece uma boa quantia em dinheiro, não fazendo isso graças a Max. Se Charlie não se torna alguém chato, isso se deve a atuação do sempre eficiente Hugh Jackman. Ator talentoso e carismático, Jackman empresta esta última qualidade para o personagem, algo que faz com que nos importemos com ele até o fim do filme.
Com relação aos outros personagens, o roteiro mostra Charlie como alguém orgulhoso e muito ambicioso, o que faz com que não pense antes de fazer alguma coisa e se importe muito com dinheiro. A ambição do personagem é tão grande que por muito pouco ele não se torna desinteressante. Mesmo depois de ver o potencial de Atom, Charlie quase o vende quando um personagem oferece uma boa quantia em dinheiro, não fazendo isso graças a Max. Se Charlie não se torna alguém chato, isso se deve a atuação do sempre eficiente Hugh Jackman. Ator talentoso e carismático, Jackman empresta esta última qualidade para o personagem, algo que faz com que nos importemos com ele até o fim do filme.
 Max, por outro lado, mostra ser diferente de seu pai. Interpretado por Dakota Goyo com grande determinação, Max mostra ser mais esperto por agir baseado na confiança. Por ser considerado um novato, o personagem é usado pelo roteiro para que possa ser explicado para o público o que aconteceu com as lutas normais, uma estratégia compreensível e necessária não só para o desenvolvimento da história, mas também para não deixar perguntas no ar. E a bela Evangeline Lilly se destaca interpretando Bailey, personagem que sempre apoiou Charlie na carreira de lutador e agora o ajuda com os robôs.
Max, por outro lado, mostra ser diferente de seu pai. Interpretado por Dakota Goyo com grande determinação, Max mostra ser mais esperto por agir baseado na confiança. Por ser considerado um novato, o personagem é usado pelo roteiro para que possa ser explicado para o público o que aconteceu com as lutas normais, uma estratégia compreensível e necessária não só para o desenvolvimento da história, mas também para não deixar perguntas no ar. E a bela Evangeline Lilly se destaca interpretando Bailey, personagem que sempre apoiou Charlie na carreira de lutador e agora o ajuda com os robôs.
 Ambientado em um futuro não muito distante, Gigantes de Aço conta com um grande design de produção que acerta ao não colocar carros voadores e outros elementos comuns em filmes do tipo, o que faz do universo apresentado algo muito mais acreditável. Os detalhes futurísticos são colocados na tecnologia usada na época, seja em celulares ou no estilo dos locais onde os robôs lutam. Aliás, esses lugares são muito bem usados pelo diretor Shawn Levy para mostrar a evolução de Atom, já que eles ficam cada vez mais sofisticados à medida que o robô vai “ganhando experiência”. Se sua primeira luta acontece em um local onde um ringue é praticamente inexistente, no final ele já luta em um lugar onde a tecnologia usada para controlar os robôs chega ao seu ápice. Os efeitos visuais também são excelentes, algo mais notável nas cenas de luta, onde os movimentos rápidos dos robôs mostram ser muito convincentes.
Ambientado em um futuro não muito distante, Gigantes de Aço conta com um grande design de produção que acerta ao não colocar carros voadores e outros elementos comuns em filmes do tipo, o que faz do universo apresentado algo muito mais acreditável. Os detalhes futurísticos são colocados na tecnologia usada na época, seja em celulares ou no estilo dos locais onde os robôs lutam. Aliás, esses lugares são muito bem usados pelo diretor Shawn Levy para mostrar a evolução de Atom, já que eles ficam cada vez mais sofisticados à medida que o robô vai “ganhando experiência”. Se sua primeira luta acontece em um local onde um ringue é praticamente inexistente, no final ele já luta em um lugar onde a tecnologia usada para controlar os robôs chega ao seu ápice. Os efeitos visuais também são excelentes, algo mais notável nas cenas de luta, onde os movimentos rápidos dos robôs mostram ser muito convincentes.
 Shawn Levy (o mesmo diretor de Recém Casados e dos filmes de Uma Noite no Museu) é uma aposta curiosa dos produtores para conduzir o filme, considerando que nunca dirigiu uma produção com cenas de ação do nível que aparece em Gigantes de Aço. Mas Levy se sai admiravelmente bem nesse ponto do filme. Além disso, ele trata com sensibilidade o relacionamento de pai e filho, algo que resulta em belos momentos, como quando Charlie salva Max em um penhasco.
Shawn Levy (o mesmo diretor de Recém Casados e dos filmes de Uma Noite no Museu) é uma aposta curiosa dos produtores para conduzir o filme, considerando que nunca dirigiu uma produção com cenas de ação do nível que aparece em Gigantes de Aço. Mas Levy se sai admiravelmente bem nesse ponto do filme. Além disso, ele trata com sensibilidade o relacionamento de pai e filho, algo que resulta em belos momentos, como quando Charlie salva Max em um penhasco.
 Gigantes de Aço tem qualidades admiráveis e é muito bom tecnicamente, mas é uma pena que a história tenha tão pouca originalidade. No final do filme, a única coisa que faltou foi um personagem gritar o nome de alguém, assim como Sylvester Stalone fez em Rocky. E acho que isso só não aconteceu por que aí seria copiar demais.
Cotação:
Gigantes de Aço tem qualidades admiráveis e é muito bom tecnicamente, mas é uma pena que a história tenha tão pouca originalidade. No final do filme, a única coisa que faltou foi um personagem gritar o nome de alguém, assim como Sylvester Stalone fez em Rocky. E acho que isso só não aconteceu por que aí seria copiar demais.
Cotação: